Here are the young men, the weight on their shoulders Here are the young men, well where have they been?
quinta-feira, 31 de março de 2011
The Vaccines, What Did You Expect From The Vaccines?

The Vaccines
“What Did You Expect From The Vaccines?”
Columbia / Sony Music
2 / 5
Se há coisa que não falta no mundo dos discos são os inevitáveis candidatos a ocupar as vagas de “mais-do-mesmo” que sistematicamente vão entrando em cena, naturalmente já com o comboio em andamento... E eis que entram em cena os The Vaccines. São de Londres, ficaram bem classificados entre a lista Sound of 2011 da BBC. E, depois de dois singles que chamaram algumas atenções (mas sem vendaval que se justificasse), apresentam agora um álbum que lança como título uma questão que pode dar como resposta um simples encolher de ombros... What Did You Expect From The Vaccines?, no fundo, dá a resposta em três tempos: nada de especial, de facto... Numa mão cheia de canções parece claro que estamos perante uma banda que tenta seguir (a milhas de o conseguir) os trilhos de uns Arctic Monkeys, juntando à sua música uma série de referencias adicionais que passam, muitas vezes, por heranças directas das memórias do pós-punk de finais dos setentas, dos Undertones (de Wreckin’ Bar) a ocasional piscadela de olho aos Joy Divsion (All In White), a dados momentos a alma indie magoada de uns The National (sem comparações é certo) passa por aqui (como acontece ao som de A Lack Of Understanding). As canções sucedem-se num desfile de “mais-do-mesmo” onde na verdade pouco mais acontece que uma revisitação de modelos. As formas estão claras, as canções polidas segundo uma lógica que deixa transbordar a ocasional pinga de electricidade... Mas, depois de onze canções, não vamos muito para lá do que tínhamos no começo. Ou seja, dos Vaccines não esperamos quase nada... Pelo menos para já... Que fique claro que, por vezes, há quem chegue mais tarde ao comboio e acabe por brilhar mais. Como os The Rakes, infinitamente mais interessantes que os Libertines (apesar da histeria mediática que acompanhara a primeira das bandas). Mas, pelas canções do álbum de estreia dos Vaccines não se vislumbra nada por aí além entre as estações e apeadouros que se seguem...
quarta-feira, 30 de março de 2011
terça-feira, 29 de março de 2011
"The Tree of Life": mais um cartaz
Cerca de três meses passados sobre a divulgação do primeiro cartaz de The Tree of Life, aí está o segundo. O muito aguardado filme de Terrence Malick, o primeiro desdeO Novo Mundo (2005), tem estreia francesa marcada para 18 de Maio, parecendo perfilar-se como um título incontornável de Cannes (11/22 Maio). Entretanto, a Fox Searchlight também já abriu o site oficial.
Duran Duran, All You Need Is Now
Duran Duran
“All You Need Is Now”
Tape Modern
4 / 5
O disco começou a nascer publicamente na recta final do mês de Dezembro (de 2010) através de um primeiro lançamento em exclusivo via iTunes. Mas só este mês ganhou a sua expressão definitiva numa versão “física” que junta às nove canções desse lote inicial quatro novos temas, dois interlúdios instrumentais e uma remistura do tema-título. Depois de escutadas canções como Blame The Machines, Being Followed ouThe Man Who Stole a Leopard e lidas sucessivas opiniões favoráveis (como na verdade o grupo não conhecia desde o início de carreira) não será já novidade afirmar que All You Need Is Now é, não apenas, o sucessor de Rio que o grupo nunca havia criado, mas o melhor álbum dos Duran Duran desde então. Sob a produção de um fã (Mark Ronson), os Duran Duran mergulharam na essência da sua linguagem, buscando marcas de identidade ao tempo em que cruzaram as cores da pop dos dias pós-punkcom um viço herdado do disco... Rio foi o paradigma de referência, as canções recuperando em tudo a alma “clássica” do grupo sem contudo incorrer no erro de tropeçar em nostalgias. O som herda assim marcas de identidade que transporta para canções que vivem no presente. Às quais se juntam novas pérolas, das paisagens ambientais de Mediterranea (entretanto revelada no EP From Mediterranea With Love, lançado em finais de 2010) ao clima pop dançável irresistível de Other Peoples Lives ouToo Bad You’re So Beautiful (esta uma herdeira clara de uma ideia de perfeito diálogo entre guitarras e electrónicas de um Hold Back The Rain). De novo há ainda os interlúdios instrumentais A Diamond In The Mind e Return To Now, variações em torno do tema título com arranjos orquestrais de Owen Pallett (igualmente presente em The Man Who Stole a Leopard). Menos interessante, e até mesmo algo deslocada da ideia com perfil de intensidade mais rock que cruza o disco, Networker Nation parece-se mais com as canções menos bem nascidas que fizeram dos discos do grupo nos anos 90 casos de complicada bipolaridade. A própria remistura de All You Need Is Now, que fecha o alinhamento, é extra igualmente dispensável. Mesmo assim, apenas com dois leves equívocos, All You Need Is Now traduz um momento de evidente boa forma de uma banda veterana, o seu melhor desde os dias de glória vividos em inícios dos oitentas.
PS. All You Need Is Now terá distribuição nacional em Abril através da Edel.
segunda-feira, 28 de março de 2011
SARTRE, CAMUS E DEXTER

Após um ano de intervalo, “Dexter” está finalmente de volta, e mesmo que o primeiro episódio ainda não tenha trazido grandes novidades, soando mais como um interlúdio respeitoso aos acontecimentos bombásticos do final da última temporada, não pude deixar de notar como uma interessante premissa foi quase discretamente seminada ali.
.
Ao lidar com a morte da esposa e com todas as condolências que envolvem a perda de uma pessoa amada e da família – cujas convenções sempre o deixaram desajeitado – era inevitável que alguém notasse a indiferença emocional de Dexter (neste caso, o detetive Quinn que, ao que tudo indica, fará o papel similar ao que foi de Doakes na segunda temporada). E é natural que, a partir daí, todos comecem a questionar o comportamento de um homem incapaz de demonstrar desespero no momento em que sua esposa foi assassinada na banheira de casa ou de chorar em seu funeral. E aí é que se inicia o que provavelmente será a grande premissa desta temporada: Dexter acabará sendo investigado justamente por um crime – provavelmente o único – que não cometeu, não porque haja indícios de que ele o possa ter feito, mas porque o senso-comum entra em alerta quando alguém não demonstra os sentimentos de compaixão que se espera.

Neste sentido, o drama de Dexter se aproxima diretamente do Mersault de Albert Camus em “O Estrangeiro”, um homem que encontra na indiferença emocional o único suporte possível diante de um mundo cuja busca de sentido é sempre fadada ao fracasso. Assim como Dexter, Mersault não chora no funeral da mãe e é incapaz de demonstrar o mínimo sinal de lamentação, nem mesmo quando, meio sem querer, mata um árabe na praia. Nem a morte natural ou a morte induzida (no crime) o afetam emocionalmente e por mais que seja um homem extremamente são, capaz de interagir e se relacionar com outras pessoas, sua indiferença o condena diante do julgamento alheio, engatilhado pelo senso-comum. No memorável trecho final do romance, o fato de não demonstrar emoção no funeral da mãe se torna a grande “prova” de sua culpa no crime e é condenado à morte (mas para ele, uma certa emancipação da prisão humana).
.
Dexter também é um ser emocionalmente excêntrico, um “assassino sem culpa”, mas movido por sua própria ânsia em matar, tenta de todas as formas possíveis escapar de uma fatídica suspeita de sua segunda identidade (como na tensa e memorável segunda temporada). O que torna esta quinta temporada interessante, porém, é que desta vez nem mesmo a destreza de Dexter em limpar a cena do crime e esconder um corpo mutilado são garantias de que conseguirá se safar. O que foi exposto no primeiro episódio é justamente o seu irrefutável ponto fraco: seu emocional. Cedo ou tarde outros terão a mesma constatação do detetive Quinn de que há algo “errado” com Dexter.
Na sequência mais surpreendente do primeiro episódio, Dexter mata um homem apenas por ter sido um idiota grosseiro ao cruzar com ele. O assassinato foge radicalmente de suas tão rígidas regras, não só porque foi um ato imprevisto (algo que ele sempre foi tão competente em evitar) mas principalmente porque subverte os códigos de seu pai que ele assumiu com tanto rigor (matar apenas quem matou outras pessoas). Em mais uma “aparição”, seu pai, ao invés de reprová-lo por desobedecer suas regras, o sauda: “Essa foi a coisa mais humana que você fez desde a morte dela”.

Matar um inocente daquela forma foi o choro de Dexter, a sua descarga emocional possível, descontrolada e com nervos à flor da pele. Ele estava, de fato, sentindo o legítimo remorso, o arrependimento e a dor da perda. À sua própria maneira, tão peculiar, mas ainda legítima.
“Dexter” dialoga cada vez mais fortemente com o existencialismo (mesmo que Camus não se encaixe diretamente, já que recusava o rótulo), quando lembro de outro conto que marcou profundamente minha adolescência: “Erostrato”, de Jean Paul-Sartre .
Assim como também sempre foi de interesse na obra de Camus, este particular conto de Sartre disseca a identidade em crise; o embate da existência dominada pela dualidade, entre aquilo que se quer ser e o que é socialmente necessário. Porém, de forma bem mais brutal, a indiferença emocional de Paul Hibert, protagonista de “Erostrato”, provém do ódio e da repulsa pelo homem. Por vezes ele comenta como não suporta esbarrar em outras pessoas na rua ou como sente extrema repulsa ao ver homens mastigando, preferindo até assistir a refeição das focas.
Por mais que Dexter não compartilhe dessa repugnância pela humanidade (pelo contrário, ele até tenta, da maneira mais afetiva possível, fazer parte dela), ambos fogem da relação humana clássica – e, supostamente, natural e intrínseca- da “identificação ao seu semelhante”, e o paralelismo entre os personagens se torna mais pertinente quando notamos que o Paul de “Erostrato” diz que nunca teve relações íntimas com uma mulher, pois se sentiria sempre roubado e “devorado por suas bocas peludas”. Dexter na primeira temporada também não conseguia se relacionar sexualmente, já que se trata de um tipo de entrega física e emocional que exigia mais do que ele estava disposto (e ainda que nas temporadas seguintes ele já conseguisse ter relações sexuais, ele continua lidando com suas barreiras para realizar devidamente atividades cívicas e familiares comuns).
Matar um outro semelhante, tanto para Paul quanto para Dexter, é o que pode colocar seu emocional em fluxo, o ato que, de alguma forma, dá sentido às suas existências (embora Dexter já usufrua conscientemente disso e Paul apenas planeja o ato). O protagonista de “Erostrato” chega a dizer, numa das melhores passagens do conto: “…o que pode ser um homem que não gosta dos homens? Pois bem, sou eu e eu os amo tão pouco que vou, agora mesmo, matar uma meia dúzia deles; talvez vos pergunteis: por que somente uma meia dúzia? Porque meu revólver não tem mais que seis cartuchos.”
É irônico como Paul, que pareça tão austero e convicto em sua posição ideológica, falhe terrivelmente no fim do conto: seu tão planejado atentado se torna um fiasco e ele enfim se dá conta de como é fraco como todos os outros homens. Justamente o que Dexter não é, já que a fúria necessária para cometer um crime é canalizada de forma bastante disciplinar (sempre baseado nos códigos ministrados pelo pai) e o seu dualismo em ser também um homem comum, em administrar o afeto das pessoas a seu redor, ao invés de o condenar – como os personagens de Camus e Sartre – é o que o mantém equilibrado, são e centrado.
Não por acaso Dexter é um dos personagens mais complexos e interessantes da safra de séries atuais. Referências intencionais ou não, são questões existenciais como essas que nos fazem torcer para que série se mantenha viva por quantas temporadas possíveis. Nada mais fascinante do que ver um personagem que luta para parecer normal enquanto nós lutamos para entender como é possível simpatizar tanto por um serial-killer. Constatar que todos temos um lado obscuro nunca foi tão sedutor.
sábado, 26 de março de 2011
SOMEWHERE, de SOPHIA COPPOLA
Para além do arco-íris há um vazio cheio de nada, em Somewhere, o novo filme de Sofia Coppola: onde superficialidade, tédio e minimalismo aguardam o room service.
|
Não é que Sofia Copolla tenha entrado no impenetrável território de Antonioni que possuía a arte de transformar o tédio nisso mesmo: em arte. Mas no seu novo filme, Somewhere (estreia-se no próxima dia 24 de Fevereiro) a filha de Francis continua sem abandonar a sua zona de conforto. Tal como a personagem do filme, que foi Leão de Ouro em Veneza (estreia-se dia 17 de Fevereiro): um actor entediado e enfurnado no quarto 59 do lendário hotel das estrelas, Chateau Marmont, na Sunset Boulevard, Los Angeles. Raramente este actor (interpretado por Stephen Dorff) abandona este não lugar, onde a vida é uma imitação, uma zona de passagem, numa transição permanente. Um homem oco, que padece de enfado crónico, com a alma em decomposição que não sairá borboleta deste casulo, onde vigora o do not disturb e o room service, e a comida é plastificada, tal como a música, as festas e as mulheres - que têm, aliás, uma rotatividade assinalável na sua cama.
A agonia de pessoas espantosamente ricas, bonitas e famosas, que vivem em hotéis espantosamente elitistas, com todas as mordomias e conduzem ferraris espantosamente extravagantes para chegar a lado nenhum. Já se disse do filme de Sofia que Somewhere is Nowhere. Mas este filme não nos é um lugar estranho. O tipo de loura adolescente, quase estilizadas, com traços finos e perfeitos (sempre tão diferentes do ar latino da realizadora), pálidas e vaporosas, com cabelos esvoaçantes como nos anúncios de champô e que ela filma tão bem, já o tinhamos visto emAs Virgens Suicidas (1999). Assim com a insatisfação, o desprazer, o enfadamento de gente que tinha tudo para ser feliz e dedica a festas dissipadoras, como em Marie Antonieta (2006). Em Somewere pressentem-se as pegadas de Lost in Tranlation - O Amor é um Lugar Estranho (2006) sem ser preciso espalhar farinha. Também aqui há um actor entiado num hotel, também aqui há a sua perplexidade perante as iníquas perguntas dos jornalistas ou perante os bizarros shows televisivos (só que no primeiro era a TV japonesa, no segundo é na TV italiana). Ambos pairam por ali, zombificados pelo tédio, fumam, bebem, dormem e não se passa nada. E nos dois filmes, até há, no final, uma frase abafada, que nós nunca escutamos. Aliás, fica muito por preencher na história das personagens, o argumento é minimalista, os diálogos são concisos, as sequências repetitivas, há conexões que ficam em aberto, imensos momentos musicais como vídeo-clips, e outros pormenores divertidos, como a cena das gémeas stripers sincronizadas que trazem o seu kit e um varão desmontável para um show ao domicílio.
O deserto do enfado
Tal como aparece uma Scarlett Johanson, na vida de Bil Murray, também na rotina deste actor lhe surge a filha adolescente (a estreante Elle Fanning) de quem fica a tomar conta. Na mansão cerebral do actor, algo se pode desbloquear, alguns corredores se podem percorrer, algumas portas se podem abrir, mas na verdade nunca vão ter a lado nenhum. E a perspectiva nunca é a da miúda.
Há uma sequência absolutamente claustrofóbica, que mostra que debaixo da lânguida existência de johnny também bate um coração. Aquela em que os técnicos de maquilhagem ou de efeitos especiais lhe colocam uma máscara de envelhecimento e ele fica só a respirar por uns buraquinhos no nariz, como um mergulhador por uma plha de bambu, mais solitário e metido consigo próprio do que nunca. É curioso porque Stephen Dorff que andou até aqui desaparecido dos radares (poucos se lembrarão dele, ao lado de Jonnhy Depp em Inimigos Públicos de Michael Mann) e que se fartou de fazer "direct-to-DVD movies" tinha sido preterido num castig de Francis Coppola, para Uma Segunda Juventude - a história do homem que não envelhecia. Sophia conseguiu, nesta cena, envelhecê-lo. E enquanto o pai se enreda em argumentos cada vez mais embaraçados, e se rendeu ao digital, Sofia torna-se cada vez mais minimal, fascinada pela película - aliás, o filme foi rodado com as lentes que Coppola usou em Rumble Fish. Sofia pode não ter saído do mesmo lugar, mas continua a filmar tão bem, e a fazer filmes tão especiais. Afinal, mais vale algum lugar do que lugar nenhum.
sexta-feira, 25 de março de 2011
Elbow – Build a Rocket Boys! (2011)

by Andrew Wallace Chamings
2009’s The Seldom Seen Kid managed a one-two punch that was seemingly impossible: it won the much coveted British Mercury Music Prize and sold a lot of records. This gave Mancunian art-rockers Elbow some long overdue admiration across the industry and some space to choose their next direction. As husky front man Guy Garvey put it, “It’s the first album we’ve made without the comedy anvil hanging over our heads.” With Build a Rocket Boys!, Elbow have not returned with more arena-filling choruses, beautiful as they were. Instead, their fifth full-length boasts a sparser sound and a lament on lost youth. In fact, there are no recognizable hits on the self-produced album. First single, “Neat Little Rows” is a rare misstep on an album that rocks out but always feels like its building up to something that never quite arrives.
Garvey’s lyrics have always been worth scratching on a class desk, and Build a Rocket Boys! maintains this tradition. On album highlight “Lippy Kids” Garvey’s soft howl sings of wayward English teenagers loitering on street corners with a lyrical deftness that can rightfully be compared to Morrissey or Stuart Murdoch. “Stealing booze and hour-long hungry kisses, and nobody knew me at home anymore,” he sings. Garvey sounds like he is genuinely yearning for a return to the chaos of adolescence, and it’s hard not to want to put your arm around him and reminisce through the rainy streets together.
The swaggering guitar and hefty groove of 2009’s infectious “Grounds for Divorce” are largely missing this time around, making way for a more stripped down and elegant sound. However, the band’s go-to trick of repeating a melodic hook through strings and a vast collection of voices (on this album, the Halle Youth Choir are used) is still here. The epic album opener, “The Birds” coda, exemplifies this. Its arrangements open up subtly to cello stabs and delicate synth pops that the sound extremely interesting, occurring before the epic coda to boot.

Build a Rocket Boys! - out digitally now
“With Love” and “Neat Little Rows” both owe a debt to LCD Soundsystem, with clear production, big bass thumps and hand claps. But it is not until the following track; “Jesus Is a Rochdale Girl”, that the album finds its real heart. The soft folk song gets up close and personal with Garvey as he whispers “I have a single heartbreak, I celebrate and mourn” over a clear acoustic guitar and soft electric piano waves. The song has an emotional weight, but also a light touch that is comparable to Jeff Tweedy, or even Neil Young at his most fragile. This beauty is echoed on the piano-led “The River” and the sweeping but humble album closer, “Dear Friends”.
When Garvey sings “He openly wept as he listened to me” on the simple analogous ode “The River”, it’s a clear moment of delicate splendor. After spending 2011 trying to decipher Thom Yorke’s breathing patterns and listening to PJ Harvey sing through the medium of a World War 1 soldier, it’s a welcome, affecting and direct vocal that you can turn up, sit back and get lost in (versus resting your ear on the speaker wondering if Jonny just played a guitar line). It’s somewhat harder to go on the journey back with Garvey on the more bombastic, orchestral numbers, such as “High Ideals”, which never quite reaches the soaring heights of 2009’s “On a Day Like This”, and is too precisely produced and stripped-down to let the band find their groove.
When bands make albums about nostalgia and the golden days of youth, it often misses the mark. It can feel like being forced to weep at old photographs and soak up saccharine memories (Mr. Oberst). Arcade Fire managed it last year by making it an epic war in which we could all take a side and sing along. Elbow succeeds here as Garvey manages to avoid mawkish sentimentality, and takes us with him on a candid look into his past through a dry wit, arresting voice, and a big heart.
Acabou sonho hippie em Copenhaga
O sonho da "sociedade alternativa" chegou ao fim. Fundada, em 1971, numa base naval desactivada em Copenhaga, Dinamarca, a cidade hippie de Christiania perdeu o estatuto de "cidade livre", após uma longa batalha jurídica.
Foi há 40 anos que um grupo de "hippies", comunistas, "punks" e fugitivos da lei atendeu a um "apelo" do jornal alternativo "Hovedbladet" e ocupou uma base militar no bairro de Christianshavn, nos arredores da capital dinamarquesa. Era o início da mais famosa "experiência social" e uma luta incansável contra o Estado e o capitalismo.
foto Direitos Reservados

Os habitantes de Christiania vivem em comunidade nas "casernas" deixadas pelos militares e em contacto com a natureza - é considerado o "pulmão verde" de Copenhaga. Não possuem propriedades nem automóveis, e o uso de drogas leves, como a marijuana, é permitido dentro da "fortaleza hippie".
A cidade tem um orçamento anual de 18 milhões de coroas dinamarquesas (2,4 milhões de euros), que serve para pagar despesas pessoais, como electricidade e água, e serviços públicos, como correios e recolha do lixo.
Apesar de tanta liberdade, os moradores são obrigados a respeitar algumas regras estabelecidas por votações consensuais. Não é permitido tirar fotografias, construir novas habitações ou correr, porque quem corre pode ser confundido com um ladrão.
A cidade despertou o interesse de cidadãos de todo mundo e tornou-se a terceira atracção turísitica mais visitada de Copenhaga, atrás da "Pequena Sereia" e do "Parque Tivoli".
quarta-feira, 23 de março de 2011
The Strokes, Angles

The Strokes
“Angels”
RCA / Sony Music
2 / 5
Era um dos mais esperados álbuns de 2011. E sabíamos, desde há muito, que traduziria um tempo diferente na vida dos Strokes, as canções tendo nascido entre uma banda dividida, as vozes e ideias de Julian Casablancas surgindo à distância e enviadas aos demais parceiros via email... Era portanto lícito aguardar-se por algo que não traduzisse o que poderia ser um natural passo adiante de First Impressions of Earth, a soma das partes que entretanto representaram experiências a solo podendo assim gerar a sugestão de eventuais novos caminhos. Mas na verdade Angels mais não parece senão um desmotivado exercício de calendário por cumprir, entre a sucessão das canções que formam o alinhamento não surgindo, em algum momento, a alma que dos Strokes fizera um dos (justificadamente) mais aclamados entre os casos do rock'n'roll na década dos zeros. Undercover Of Darkness, apresentado como single-aperitivo há algumas semanas, revelava um mapa de atenções apontadas aos mesmos azimutes que em tempos definiram a estreia em Is This It... Ao entrar depois no coração de Angels o que se sente é que, todavia, não há um real caminho por aqui. Antes, um amontoado de canções que seguem ideias e linhas várias, de instantes que seguem mais de perto as experiências recentes de Casablancas no seu Phrazes For The Young (como se escuta, por exemplo, em Games), pontualmente o desafio do tactear de outros espaços surgindo como, por exemplo, acontece ao som de Two Kinds Of Hapiness, que aceita memórias pós-punk que evocam os melhores dias dos Cars ou o novo flirt melancólico de Call Me Back. Contudo, o que mais falta em Angelssão as canções. É que, mesmo quando os Strokes fizeram do segundo disco uma ligeira variação das ideias que haviam ditado o primeiro, a escrita defendeu-os, dando-lhes mais uma mão cheia de momentos que marcaram o seu tempo. O mesmo não acontece aqui, pelas dez canções que fazem a história deste quarto álbum do grupo nova-iorquino raras sendo as ocasiões em que reconhecemos o fulgor que lhes deu o estatuto que mereceram. De facto, forçada, a coisa não tem a mesma verdade da ideia que nasce de um real sentido de entusiasmo criativo. E isso é coisa que não parece ter morado entre o making of deste álbum.
Publicada por Nuno Galopim em http://sound--vision.blogspot.com/
terça-feira, 22 de março de 2011
Roger Waters no Pavilhão Atlântico, Lisboa
| |
Triunfo na primeira noite da digressão europeia de Roger Waters com The Wall. Intimista e majestosa, noite no Atlântico encheu as medidas a público e artista. 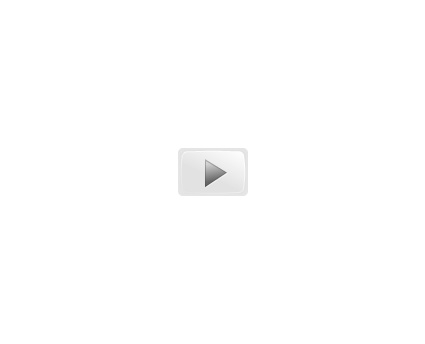 Foi grande e transversal, em termos geracionais, a romaria para assistir, ontem à noite, à primeira visita de Roger Waters a Portugal desde a atuação no Rock In Rio Lisboa, em 2006. Na altura, o músico sexagenário trazia consigo a digressão The Dark Side of the Moon (1973); desta feita, o chamariz foi The Wall , lançado seis anos mais tarde e um dos álbuns rock mais populares de sempre em Portugal, o que explica as duas casas cheias (o enorme Atlântico, em Lisboa, volta a receber Waters na terça-feira, 22 de março). O espetáculo erigido em torno do duplo The Wall , sabem-nos os fãs mais dedicados e os ouvintes ocasionais, é grandioso: ao fim da primeira música há um avião - réplica de um Stuka, bombardeiro alemão da II Guerra - que sobrevoa a plateia despenhando-se contra o muro e aí se "incendiando" (impõe, confessamos, algum respeito); há uma produção de palco espantosa, cativante e imaculada, e há também uma noção assumida, por autores e espetadores, da importância do disco e do concerto na história do rock. O que mais surpreende, no meio de um espetáculo que se poderia temer megalómano, é então o ambiente quase familiar e acolhedor do serão, com pais e filhos em harmonia, entoando todas as letras e exultando, atentamente, com o foguetório que ia sendo disparado do palco-muro disposto a toda a largura do Atlântico (a propósito: por uma vez a sala provou ser a melhor escolha para receber o espetáculo, não nos tendo nós apercebido das deficiências de som comuns neste local). Geralmente badalado pela sua conotação política, The Wall é agora, segundo o próprio Roger Waters, citado pelo Atual desta semana, "mais universal que a [produção] original", e à segunda música da noite, "The Thin Ice", surgem imagens do seu pai, Eric Waters, morto na II Guerra Mundial, tal como de civis anónimos (sobretudo do Médio Oriente) desaparecidos nos últimos anos. Na base de tudo, porém, está a viagem quase psicanalítica de Roger Waters, e mesmo no meio de toda a pirotecnia isso transparece. Na frente do palco-muro, trajado de negro (lá atrás esconde-se a banda numerosa e cumpridora), Waters apresenta o seu "bebé", The Wall , com orgulho e "savoir faire", mas também com a fragilidade de quem se debate, perante milhares de estranhos e por vezes até sem a "muleta" do baixo, com fantasmas íntimos. Por um lado uma gigantesca produção, com o muro a erguer-se durante o primeiro acto e a transfigurar-se no segundo, até à derradeira queda, o concerto The Wall é, ao mesmo tempo, a jornada interior de um homem alienado de um certo mundo e abrigado num outro, ora fantasioso ora distópico. Apesar da grande aclamação de "Another Brick In The Wall" (com as 15 crianças de uma associação cultural da Cova da Moura eufóricas em palco, a dançar e interagir com um dos bonecos de Gerard Scarfe), "Mother", "Comfortably Numb" ou "Run Like Hell", é complicado escolher os momentos altos de um espetáculo que flui com muita naturalidade e consegue ser tão impressionante, a nível visual, como tocante pelo seu conteúdo. Por exemplo: durante a inescapável "Another Brick In The Wall Part 2", Waters "estreia" dois solos de guitarra, enquanto um curiosíssimo efeito - uma carruagem de metro, qual interminável centopeia - nos implora a atenção dos olhos, percorrendo, veloz, o palco-muro. Segundos depois, é Jean Charles de Menezes, o brasileiro morto pela polícia londrina em 2005, a ser lembrado no mural dos desaparecidos, numa inesperada homenagem. O "ataque" aos sentidos, e ao coração, culmina na primeira interpelação de Waters ao público, simples e afável, lembrando os "inacreditáveis" 31 anos que se passaram sobre os primeiros concertos The Wall e apresentando a belíssima "Mother", na qual contracenou consigo mesmo, graças às imagens de uma atuação dos Pink Floyd em 1980 derramadas sobre o muro, em jeito de sombra. Foi um momento de grande intimismo - algo difícil de almejar a uma escala tão grande - e também de grande partilha, ampliada quando, à pergunta "Should I trust the government?", e a resposta se pintou garrida no muro: "No fucking way". Escusado será dizer que a multidão, com os nervos políticos em franja, se alvoroçou. Ao longo dos últimos dias, a BLITZ publicou aqui, no seu site, imagens de concertos da mesma digressão, mas é consideravelmente diferente ver ao vivo as pombas da paz a darem lugar aos aviões da guerra, ou sentir na pele o contraste entre a suavidade da música e as imagens agrestes de "Goodbye Blue Sky" (curiosamente, a "chuva" de Estrelas de David, criticada por alguns setores judeus, não pareceu incomodar o público, ao contrário das referências a marcas, prontamente apupadas). Embalados pela narrativa e pela construção do muro que, cada vez maior, torna as projeções ainda mais envolventes, chegamos ao intervalo, para o qual Roger Waters parte, cantando "à janela", "Goodbye Cruel World". 20 minutos mais tarde, o segundo ato, fortemente assente em ilusões de ótica que fazem o público crer no desmoronar do muro, quando os "tijolos" que o compõem se mantêm ainda firmes e hirtos, traz as muito aguardadas "Hey You", "Is There Anybody Out There?" ou "Bring The Boys Back Home", musicalmente épico e visualmente intenso, com fotografias de crianças desfavorecidas a comover a plateia. Invariavelmente atento e pouco dado a participações fora de tempo, o público português deixar-se-ia ainda conduzir por Waters no coro de "Comfortably Numb", maravilhar pelo anunciado porco insuflável e gritar o nome do seu herói ("Waters, Waters, Waters!") antes de este lhes dar permissão para, em "Run Like Hell", se "divertirem". Com jogos de palavras à volta do império iPod ("iRun", "iProfit", "iLose", ia-se lendo nas projeções) este foi um dos últimos "picos de corrente" do espetáculo, que terminou com toda a "equipa" na boca de cena - contámos 12 músicos, Roger Waters incluído - agradecendo a presença e a postura dos portugueses. "Quando escrevi [este disco] as pessoas não o respeitaram da mesma forma", disse Waters na despedida. "Mas nestes anos todos muita coisa mudou e nós não podíamos estar mais contentes por estarmos aqui esta noite". Pareceu sincero, emocionado e, à semelhança do concerto que ali terminava, emocionou. Missão mais do que cumprida. Texto de: Lia Pereira Fotos de: Rita Carmo/Espanta Espíritos Fonte: blitz |
VENCER

Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno) foi o primeiro amor e, supostamente, a primeira mulher de Benito Moussolini (Filippo Timi). Eram os tempos de formação de Benito, nos anos que antecederam a Primeira Grande Guerra, quando o futuro ditador tentava ainda a emancipação das massas através dos ideais socialistas, muito antes de se converter ao fascismo. Depois de uma relação impetuosa entre os dois da qual resultou um casamento e um filho, Benito, negando qualquer relação com aquela mulher, manda interná-los num asilo por demência declarada, sendo destruídos todos os registos médicos, assim como os supostos arquivos de casamento. Desta forma, mãe e filho são renegados e apagados da História.
Encenado e musicado como se de uma ópera se tratasse e utilizando algumas imagens de arquivo, Marco Bellochio («Bom dia, Noite») realiza um drama em que apresenta uma Itália isolada e destituída de identidade, tal como Ida, a personagem principal.
«Ao mesmo tempo glorioso melodrama clássico e épico de câmara, cinema emocional e popular e ensaio fílmico meta-textual, "Vencer" é uma ópera austera e arrebatada povoada por fantasmas.»
Jorge Mourinha, Público
segunda-feira, 21 de março de 2011
Hollywood — a história de um sinal
Muito mais do que um elemento informativo, as letras gigantes da palavra "HOLLYWOOD" nas colinas de Los Angeles definem um símbolo universal do cinema — nele confluem a invenção humana, a celebração da terra e a exaltação dos seus poderes mitológicos. Daí que seja possível contar a história do sinal-de-Hollywoodcomo uma epopeia que vai desde o desenvolvimento das construções da "Hollywoodland", nos anos 20 [imagem a preto e branco], até às lutas municipais para preservação e restauro das letras durante a década de 70. É isso mesmo que Leo Braudy propõe no livro The Hollywood Sign (Yale University Press). Uma breve apresentação do autor, incluindo um portfolio de nove imagens, está disponível noSlate.
sábado, 19 de março de 2011
Dicionário de Vinil
"Achei" este dicionário do vinil na net e achei bastante interessante. Estou a pensar recomeçar a minha colecção de vinil e por isso lembrei-me que os meus fieis seguidores também poderiam gostar.
DICIONÁRIO DO VINIL
A ideia dessa página é explicar a maioria dos termos utilizados em relação ao vinil, para que você fique sabendo do que se trata e quando eu falar no blog, fique fácil de saber o que eu estou dizendo. Se tiver sugestões para um termo novo, fique à vontade e entre em contato!
VINIL DE 180 GRAMAS
Um disco de vinil comum geralmente tem entre 100 e 120 gramas de peso.
Já um vinil chamado de “alta qualidade” pesa 180 gramas, o que significa que foi utilizado mais material para fazê-lo. O resultado final é um disco mais pesado e de muito melhor manuseio, sem contar que ele não fica “balançando” enquanto gira no toca-discos, preservando também a vida útil do seu tocador.
Muitos dizem que a qualidade do áudio também melhora com o maior peso, mas nesse campo há muita contradição.
Fato é que lidar com um vinil pesadão é muito mais bacana.
CAIXA DE VINIL “GATEFOLD”
A caixa de vinil “Gatefold” abre como se fosse um livro. Ao invés de ser uma caixa simples como a maioria dos álbuns, ela é dupla e muitas vezes armazena mais de um disco.
São geralmente encontradas em edições especiais, deluxe e álbuns duplos.
PICTURE DISC
Picture Discs são disquinhos especiais, que como já diz o nome, vêm com fotos impressas no próprio vinil.
Geralmente são compactos de 7″, bem pesados e com 1 faixa de cada lado.
COMPACTOS DE 7″
Compactos de 7″ são discos menores que o “convencional”, com 7 polegadas de diâmetro.
Normalmente servem como um aperitivo para o álbum de trabalho da banda e contêm músicas raras, ao vivo, b-sides, remixes, ou algo do tipo.
Pelo tamanho reduzido, geralmente vêm com apenas uma ou duas faixas de cada lado.
DISCOS DE 12″
Discos de 12″ são os mais comuns de serem encontrados.
A maioria dos “álbuns de estúdio” vêm em LP de 12 polegadas, sendo muitas vezes necessário utilizar mais de um disco, devido à grande duração do álbum.
DISCOS DE 10″
Os discos de 10″ são os menos comuns, já que normalmente a duração de um álbum cabe em um ou mais discos de 12″ e singles cabem em compactos de 7″.
Normalmente são lançados quando há poucas músicas e o artista quer fazer um trabalho artístico bacana e/ou o disco tem várias faixas, que por pouco não caberiam em um só de 12″.
COMPARAÇÃO ENTRE DISCOS DE 12″, 10″ E 7″
Como curiosidade coloquei 3 discos lado a lado, um de 12, um de 10 e um de 7 polegadas para efeito comparativo.
Assim dá pra ter uma boa ideia de seus tamanhos.
ROTAÇÃO DO DISCO
A rotação do disco diz a qual “velocidade”, em rotações por minuto, o disco deve ser girado pelo aparelho de som.
Normalmente tem a ver com o tamanho do disco em polegadas e também com a duração do mesmo. Não interfere diretamente na qualidade do som.
As mais comuns são 45 e 33⅓ rotações por minuto.
ESTRUTURA
A estrutura de um vinil não tem muito segredo. Trata-se de um disco feito de vinil com um buraco no meio para ser colocado no toca discos. Esse buraco no meio que pode variar entre um simples espaço para o pino ou um buraco maior, que nos toca discos modernos precisa de um adaptador.
A grande maioria dos discos que trazem esses buracos maiores são compactos de 7 polegadas de 45 RPM, e há indícios que apontam a resposta disso para toca-discos antigos que só conseguiam tocar compactos com buracos desse tamanho, mas não se sabe ao certo porque esse formato foi iniciado em paralelo aos buracos menores em compactos de 7 polegadas de 33 RPM.
Grande parte dos toca discos vêm com adaptadores pra esse tipo de buraco, e há bandas que fabricam adaptadores customizados para vender junto com seus aparelhos.
Retirado do site: http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/dicionario-do-vinil/
sexta-feira, 18 de março de 2011
Novo álbum dos strokes para audição
O álbum Angles, o quarto disco dos Strokes, está disponível para escuta integral, porstreaming, no site oficial da banda.
Podem escutar o disco aqui.
Scritti Politti, Absolute - The Best of

Scritti Politti
“Absolute – The Best Of Scritti Politti”
Virgin / EMI Music
4 / 5
Uma das mais interessantes bandas pop dos oitentas, com vida (com bom rumo) reencontrada recentemente, os Scritti Politti apresentam finalmente aquela que é a sua primeira antologia de singles. Com efeito, Early (compilação editada em 2004) representava, como o título sugeria, um olhar pelo período inicial da vida do grupo, escutando os ecos directos da euforia pós-punk que, entre finais de setenta e inícios de 80 animavam o colectivo que nasceram em Leeds em 1978, estreando-se em disco poucas semanas depois com o single Skank Bloc Bologna... Esse é o único instante dessa etapa recordado agora em Absolute – The Best Of Scritti Politti, retrato que centra as atenções na produção do grupo nos anos 80, abrindo uma janela adicional para recuperar quatro temas de Anomie & Bonhomie (álbum de 1999 que correspondeu a um primeiro “regresso” à actividade), ignorando contudo o mais bem vitaminado (e elogiado) White Bread Black Beer, de 2006... A história dos Scritti Politti conheceu “saltos” (ler mudanças de rumo) que muito devem a duas breves sabáticas. A primeira em inícios dos oitentas, com Green Gartside (natural da Cornualha) a regressar a “casa” para um retiro que abriu caminho à luminosidade pop mais arrumada que depois levaria ao histórico álbum de estreia Songs To Remember (disco de 1983 que incluía o belíssimo The Sweetest Girl e uma canção dedicada a Jacques Derrida). A segunda, pouco depois, levando desta vez o vocalista aos EUA, alargando os horizontes da música do grupo às genéticas da soul, do funk, do reggae (que se materializaria nos álbuns Cupid & Psyche ’85 e Provision, respectivamente de 1985 e 1988), mais tarde a música do grupo conhecendo flirts com o raggamuffin (aqui visitado na memória do single She’s a Woman, parceria com Shabba Ranks) e o hip hop (no já citado álbum de 1999). Em traços largos esta é uma história de visão e elegância ao serviço da pop, a fragilidade da voz angelical de Green Gartside (na verdade a alma do projecto) colocada ao serviço de canções que não só revelam um conhecimento dos métodos da escrita pop como, ao longo do tempo, souberam saborear a aventura do desafio de outras latitudes e inspirações, cativando mesmo, a dada altura, a atenção de Miles Davis, que tocou com a banda num concerto em 1985 e, mais tarde, colaborou, ao trompete, na gravação de Oh Patti. Absolute é uma visão transversal que peca apenas pela sobrevalorização do álbum menor de 1999, deixando de lado algumas outras pérolas dos discos de 1983 e 85 que são, ainda hoje, os momentos-chave da obra dos Scritti Politti. E novo junta dois inéditos, um deles, A Late Day and a Dollar Short (nascido de um reencontro com um velho parceiro de aventuras nos oitentas) revelando que a alma pop de Green Gartside não esmoreceu (nem a sua sempre viva e presente alma política).
Publicada por Nuno Galopim emhttp://sound--vision.blogspot.com/
Subscrever:
Mensagens (Atom)



![Roger Waters no Pavilhão Atlântico, Lisboa [texto + fotogaleria] - Roger Waters no Pavilhão Atlântico, Lisboa [texto + fotogaleria] -](http://blitz.aeiou.pt/iv/0/360/509/rc70168dritacarmo-0b58.jpg)






















